Da ditadura militar herdamos não apenas o pensamento autoritário, mas também o aparato de repressão e violência. Os dados que temos sobre o século XXI assemelham-se às realidades de países que vivem em guerra. No mesmo ano em que a vereadora Marielle Franco foi brutalmente assassinada por forças ligadas ao Estado e às milícias, o Atlas da Violência de 2018 divulgou que, em dez anos, a taxa de homicídios de negros (pretos e pardos) aumentou em 23,1% no mesmo período em que reduziu os homicídios de pessoas brancas. Para o caso das mulheres negras, o aumento da violência letal cresceu em 71% em contraste com as mulheres não negras. Outras pesquisas anteriores já vinham apresentando essas disparidades alarmantes da violência racial.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016 revelou que, em 2015, o número de mortes violentas intencionais no Brasil foi de 58.492, destes, 54% eram jovens e 73% eram pretos ou pardos. Vítimas da violência sistêmica e estrutural, as famílias negras e pobres viveram o período democrático como se estivessem num regime de exceção, autoritário e sem liberdades civis. Em termos de violência, o país se dividiu em dois: um para brancos e outro para negros. Aqui o racismo estrutural funciona com uma cortina espessa que separa as vidas que importam daquelas que são descartáveis.
Racismo e antirracismo no Brasil
Por muito tempo acreditou-se que o Brasil fosse um país sem racismo, que éramos frutos de um povo miscigenado – resultante de uma grande mistura étnica e racial – e que vivíamos harmoniosamente nos trópicos. As diferenças e as desigualdades vistas por aqui seriam de classes, ou seja, explicadas unicamente por fatores socioeconômicos. Em contraposição ao sistema de segregação racial vivenciado pelos norte-americanos até mais da metade do século XX e em contraste ao modelo de Apartheid vigente na África do Sul até 1994, o país foi descrito por mais de um século como um paraíso de brancos e negros.
Opondo-se a essa visão romântica das relações raciais, surgiram reações ao preconceito racial e em defesa da igualdade individual, que podem ser remontadas, pelo menos, desde a abolição da escravatura em 1888. Foram diversas as ações antirracistas empreendidas por intelectuais, jornalistas, artistas e militantes negros e brancos, mulheres e homens, para superar as barreiras étnico-raciais impostas à população negra que explicitaram uma ideologia das elites dominantes e não a realidade vivida pelos afro-brasileiros.
Em sua obra seminal, A Integração do Negro na Sociedade de Classes (1964), Florestan Fernandes investigou as formas de reação ao preconceito de cor e dialogou diretamente com ex-integrantes da maior organização antirracista emergente desde o término da escravidão, que foi a Frente Negra BrasileiraA Frente Negra Brasileira (FNB) foi criada em 16 de setembro de 1931, na cidade de São Paulo. Formada por negros filhos ou descendentes de ex-escravos, a Frente foi a maior associação do movimento negro da primeira metade do século XX. Dentre os seus objetivos estava o fortalecimento dos laços de solidariedade social da população negra, a criação de estratégias de combate ao preconceito de cor e a garantia da integração dos negros à sociedade brasileira. A entidade foi extinta durante o Estado Novo, em 1937. . O sociólogo brasileiro constatou o drama da população negra desde o pós-abolição para se inserir na sociedade capitalista, que ainda apresentava cultura e comportamentos análogos ao regime escravista. Uma vez que o Brasil foi o último país do tráfico atlântico a abolir o trabalho escravo em favor da mão-de-obra-livre, era de se esperar uma investigação de fôlego que demonstrasse os dilemas da integração dos descendentes de africanos na moderna sociedade brasileira.
A tese de Fernandes confrontava diretamente o discurso que dizia haver convivência racialmente harmoniosa, ou seja, sem conflitos, preconceitos, desigualdades e discriminações por cor. Quando o autor escreveu sua obra, vigorava a ideia de que a nacionalidade brasileira teria sido formada por uma espécie de democracia entre três grupos étnico-raciais – os portugueses, os indígenas e os africanos. Tratava-se da chamada democracia racial, termo que costuma ser atribuído a Gilberto Freyre porque este, ao escrever sobre as relações raciais no Brasil colonial, em Casa Grande e Senzala (1933), tratou de assinalar as relações íntimas entre senhores e escravizadas para destacar a emergência de um tipo social novo: o mestiço.
Tal análise foi intepretada por Fernandes como um elogio à miscigenação biológico-cultural, sem que as violências, desigualdades e hierarquizações socio-raciais fossem levadas em conta na interpretação freyriana, a exemplo das torturas, dos estupros, da separação dos filhos dos pais, castigos brutais e até assassinatos. Contudo, Freyre não foi o primeiro nem o único a defender a democracia racial como o especificidade do povo brasileiro, tal ideologia de harmonia entre grupos subordinados e dominantes já se fazia notar por aqui desde meados do século XIX. No entanto, a ideia de democracia racial, como nacionalismo político, era sim uma ideologia sofisticada que se desenvolveu ainda no contexto da Primeira República, ampliando-se depois durante o Governo Vargas.
Os historiadores Wlamira Albuquerque e Walter Fraga Filho, em Uma história do negro no Brasil, nos contam que a ideia de democracia racial já aparece nos anos de 1920 e ganhou mais adeptos na medida em que intelectuais negros e brancos realizavam, no plano da cultura, vivências e reflexões sobre a formação do país mestiço enquanto singularidade nacional. Nessa nação imaginada, o samba, a capoeira e o candomblé foram aos poucos incorporados à identidade nacional e logo tornaram-se exemplos da ausência de racismo. Nesse sentido, o que nos definia como brasileiros seria uma certa fraternidade racial marcada pelo compartilhamento de costumes, religião, raça, língua e memória do passado. Tudo isso garantiria nossa autenticidade como nação mestiça.
Anos mais tarde, questionada pela academia e pelos movimentos sociais, especialmente pelo associativismo e pela imprensa negra, a crença na democracia racial tornou-se insustentável frente às crescentes e numerosas denúncias de discriminações raciais no mercado de trabalho, nas instituições educacionais, no acesso aos estabelecimentos públicos e privados, nas carreiras diplomáticas e nos espaços de lazer e de entretenimento, dentre outros. Destacamos os estudos sobre relações raciais patrocinados pela Unesco no segundo pós-guerra, a exemplo dos trabalhos de Roger Bastide e Florestan Fernandes, em São Paulo, Costa Pinto, no Rio de Janeiro. Aos poucos, parte da população foi se dando conta de que a ideia de democracia racial poderia até ser um ideal nobre, mas não nos blindava da perversidade do racismo nu e cru do cotidiano.
Em vez de democracia racial, passou-se a se falar mais do racismo à brasileira. Um sistema capaz de garantir convivência interpessoal entre negros e brancos, especialmente nas classes populares e manter intocadas as abismais desigualdades raciais em diferentes esferas da vida. Algumas delas: disparidades educacionais entre negros e brancos, as diferenças salariais e a superpopulação de pretos e pardos nos trabalhos manuais, particularmente nos empregos domésticos ou na construção civil, sem contar a sua maior presença entre os trabalhadores informais e desempregados, ou mesmo a sua desproporcional presença nas estatísticas de violência letal no país. A questão racial é fator determinante no ciclo de vida dos negros, do seu nascimento à sua morte.
A persistência do racismo no cotidiano, sua presença disseminada no tecido social, fez com que os estudiosos passassem a entendê-lo como um fenômeno que estrutura a sociedade de classes no Brasil. Isso significa dizer que a nossa natureza das desigualdades sociais são simultaneamente de raça e de classe. Uma alimentara a outra.
Segundo Silvio Almeida, são exemplos do racismo estrutural: atos preconceituosos que envolvem duas pessoas no cotidiano, a exemplo de uma piada racista na escola, ação discriminatória no mercado de trabalho motivado pela questão racial ou ainda a condição de residir num bairro, majoritariamente composto por negros, sem equipamentos estatais, como postos de saúde, escolas ou espaços de lazer. Por quê? Porque o racismo estrutural não é apenas o preconceito presente no dia-a-dia, nem somente as orientações explícitas e implícitas de que negros não são bem-vindos em certos espaços ou instituições. Ele é visto, na verdade, como a reprodução sistêmica de desvantagens que atravessam o tempo e o espaço, não sendo uma exceção na vida das negros, mas uma regra. Por ser estrutural, o racismo se fixa nas estruturas de opressão tornando-se um fenômeno com múltiplas dimensões: a cultural, a econômica, a social, a estética, a subjetiva e a política.
A partir desse entendimento de que o racismo não pode e nem deve ser visto como assunto localizado ou excepcional, cada vez mais cresce a compreensão de que a história social e política do país precisa ser revisitada de modo a dar visibilidade à resistência negra. Sabe-se que um dos efeitos do racismo estrutural é o apagamento das experiências dos grupos sociais discriminados. Por isso, não é incomum a prática de distorção ou de anulação das personagens, das narrativas, dos fatos e das memórias negras na história brasileira. Do mesmo modo é habitual a ausência de análises sobre as consequências dos processos políticos autoritários sobre a vida dos negros. É com essa realidade que devemos rever o período de 1964 a 1985 a partir da pergunta: Qual o impacto da ditadura militar sobre a questão racial no Brasil?
A questão racial na ditadura militar
O regime militar teve múltiplos impactos sobre a questão racial no Brasil. Censura, vigilância, exílio, cassação, perseguição, desarticulação do ativismo e organizações negras, além do controle e dos impedimentos ao debate sobre o preconceito, a discriminação e as desigualdades raciais foram os resultados negativos mais evidentes dos governos militares sobre a vida dos afro-brasileiros.
Os avanços das atividades e do debate público sobre relações raciais legados do ativismo negro organizado desde o fim da Segunda Grande Guerra sofreram fortes abalos durante a ditadura militar. Em 1968, ano de endurecimento do regime, a maior liderança negra brasileira, Abdias do Nascimento (1914-2011), fundador do Teatro Experimental do Negro, o TENO Teatro Experimental do Negro foi criado em 1944, no Rio de Janeiro, por Abdias do Nascimento. Retornado de uma viagem com amigos pela América Latina, Abdias convenceu-se de que não deveria haver no teatro espaço para o Black face, ou seja, era intolerável que brancos pintassem suas faces de preto para interpretar personagens negros. Com esse ideal, jovens negros passaram a formar artistas pretos e pardos para atuarem nos espetáculos. Mas o TEN não se restringiu ao teatro. Tratou também de ofertar cursos de alfabetização, fortaleceu uma rede de intelectuais negros e brancos, de ativistas, acadêmicos e artistas, editou o Jornal Quilombo e atuou fortemente nos processos eleitorais no Pós-Estado Novo. As atividades do TEN se encerraram por completo em 1968, quando Nascimento saiu do país, em exílio, durante o regime militar. , principal entidade das mobilizações antirracistas do pós-Estado Novo, deixou o país rumo aos Estados Unidos, onde passou a denunciar para o mundo a situação de discriminação e de desigualdades sofridas aqui pela população negra.
Não só o exílio de Nascimento abalou os alicerces da crítica negra no país, mas também a cassação e o exílio do intelectual e deputado Guerreiro Ramos (1915-1982), integrante do TEN. Estas duas situações foram decisivas para desarticular as redes de solidariedade, as reflexões e os projetos de resistência no seio da comunidade negra organizada, gerando na militância um sentimento de terror e medo de denunciar a temática de forma aberta.
Com a saída de cena do Teatro Experimental do Negro e seus principais líderes, as demais associações negras passaram a atuar cada vez mais por meio de atividades culturais, como a literatura, recitais, teatro, imprensa negra, valendo-se assim de novas redes de solidariedade e trocas intelectuais num contexto internacional de guerra fria e de lutas anticoloniais. Além da desmobilização e reorientação das estratégias visíveis do associativismo negro, a ditadura militar exerceu impacto no debate sobre a questão racial, seja no âmbito acadêmico, no institucional ou mesmo nas artes.
A agenda de pesquisa sobre relações raciais desenvolvida no processo de institucionalização do campo científico das ciências sociais, a exemplo das pesquisas realizadas na Universidade de São Paulo por Roger Bastide e Florestan Fernandes desde os anos de 1950, perdeu o espaço que tinha na principal universidade brasileira, posto que o golpe militar interferiu diretamente na carreia universitária de estudiosos, cujos resultados das investigações questionavam o mito da democracia racial de um lado, e o argumento da ausência de preconceito racial, de outro.
Thomas Skidmore talvez tenha sido o primeiro a notar o impacto dos expurgos dos professores sobre o desenvolvimento de pesquisas relativas à questão racial, levando-as à atrofia durante o período autoritário. O historiador norte-americano afirma que os militares não chamavam de subversivos apenas os guerrilheiros com suas armas, mas também os cientistas com suas ideias. Dentre os quais estavam arrolados acadêmicos que tinham apresentado questionamentos acerca da democracia racial no Brasil.
Outro exemplo paradigmático das posições oficiais do regime foi a supressão da pergunta sobre raça/cor no censo de 1970. Pela primeira vez na história do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não se pode coletar dados capazes de informar sobre as diferenças nas condições de vida da população brasileira segundo o seu pertencimento racial. Isso teve impacto nas pesquisas sobre desigualdades entre negros e brancos, uma vez que o principal órgão de coleta de dados oficiais sobre o povo brasileiro negou-se a produzir esse tipo de informação impactando diretamente a luta antirracista que se nutria destes números para realizar suas denúncias.
No que se refere diretamente ao ativismo, a Lei de Segurança Nacional restringia o espaço dos movimentos sociais e, consequentemente, a atuação dos militantes negros, já que na referida lei a incitação ao ódio ou à discriminação racial era entendida como crime contra o Estado. Tendo em vista que a negação do racismo tornou-se o discurso oficial, qualquer questionamento à ideologia do regime militar poderia ser entendido como racismo reverso, ou seja, os movimentos que denunciassem a discriminação ou o preconceito racial eram interpretados como agentes que promoviam o ódio e animosidades entre os grupos raciais.
Sob o olhar atento dos censuradores e dos demais agentes de vigilância e controle social, produções culturais, reuniões e manifestações contra o preconceito ou a discriminação poderiam ser entendidas como subversivas ou como atentados à segurança nacional. O discurso oficial dos militares era o da democracia racial, interpretação que limitava a inserção pública ou questionamento de temas ligados à situação étnico-racial no país, uma vez que a democracia racial era mesmo um dos pilares do nacionalismo político alimentado durante o regime autoritário.
Vários intelectuais, encontros e organizações que pautavam o tema foram vigiados, a exemplo do Movimento Negro UnificadoO Movimento Negro Unificado reuniu-se publicamente pela primeira nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, em 07 de julho de 1978. Inicialmente chamava-se Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial e contava com associações negras de diferentes partes do país, organizações antirracistas ligadas às esquerdas políticas. O MNU é hoje uma das organizações mais antigas dos movimentos sociais brasileiros. São mais de quatro décadas de atividades na sociedade civil, sem interrupção, voltadas para a conscientização das discriminações e desigualdades étnico-raciais. Sem contar sua atuação persistente na luta contra o genocídio da juventude negras no país. e suas reuniões em diferentes lugares do país. Houve também por parte dos militares grande preocupação com os espaços do movimento black nos centros urbanos, especialmente nos subúrbios cariocas.
No que se refere à cassação de políticos negros, um dos casos mais emblemáticos foi o de 1968, que envolveu o prefeito eleito de Santos, litoral do Estado de São Paulo, Esmeraldo Tarquínio. Sua trajetória oferece pistas sobre o quão complexas eram as relações raciais durante a ditadura dos generais. De família pobre da baixada santista, ficou órfão aos sete anos de idade. Por isso, teve vida dura na infância e na adolescência, períodos em que passou por diversas ocupações: office boy, marceneiro, despachante, vendedor de livros e outras funções típicas de meninos de estratos populares.
Envolvido com a política desde muito jovem, elegeu-se primeiro vereador, em 1959, e deputado estadual, em 1962. Em 15 de novembro de 1968, venceu as eleições municipais para prefeito de Santos. Contudo, o General Costa e Silva nomeou um interventor federal e Tarquínio foi cassado um mês antes da sua posse. Impedido de assumir o cargo, o prefeito eleito teria seus direitos políticos suspensos por dez anos. O político, ferrenho defensor da igualdade racial e preocupado com a justiça social, voltaria a se candidatar somente nas eleições de 1982, no contexto da redemocratização, mas fora vitimado por um acidente vascular cerebral poucos dias antes do pleito. No contexto de sua morte, os jornais paulistas noticiaram os conflitos que o político viveu, anos atrás, com as forças armadas:
O racismo, como se sabe, foi uma das razões, assim como fato de muitos poderosos da época, em Santos, não aceitarem como prefeito um negro, que, ainda por cima, tinha ideias socialistas. Mas poucos duvidam que tudo não tenha começado em 1965, quando durante uma palestra de reservistas veteranos da Fortaleza de Itaipu. Depois da palestra, um general o chamou, aos brados, de comunista e mandou que fosse limpar as latrinas de Moscou (Tribuna, 14/11/ 1982: 14).
Ao lado do caso de Tarquínio a experiência do ator e comunista Zózimo Bulbul, nome africado de Jorge da Silva, nascido no Rio de Janeiro, em 1937. Jorge era de origem popular, filho de trabalhadores manuais. Ingressou na Faculdade de Belas Artes, em 1959, na qual estudou desenho, pintura e cenografia. Ainda na faculdade, se aproximou do Partido Comunista do Brasil (PCB) e frequentou o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC-UNE).
Segundo o pesquisador do cinema brasileiro Noel de Carvalho, em 1969, Zózimo já tinha carreira promissora como ator. Naquele ano, interpretou o personagem central do filme Compasso de espera, do qual também era co-produtor. O filme foi barrado pela censura porque era abertamente crítico à ideia de democracia racial e tinha como enredo um relacionamento amoroso inter-racial e seus impasses frente à sociedade, exibindo, inclusive, cenas de conflito entre negros e brancos. O longa-metragem foi dirigido por Antunes Filho, que defendia sua obra como um diálogo com os estudos de Florestan Fernandes sobre o negro na sociedade de classes, rompendo, assim, com estereótipos comuns na filmografia brasileira.
Estes casos mostram como a ditadura militar promoveu ativamente o silenciamento do debate público sobre a temática: as representações dominantes ora objetificavam as posições subalternas ora naturalizavam os corpos negros, associando-os ao crime, ao futebol ou ao carnaval. Toda a crítica a essas representações estereotipadas era entendida como posição subversiva. A rearticulação de uma nova crítica às representações dominantes marcadas por fortes desigualdades persistentes e estereótipos coloniais só ganharia a cena nacional com a formação de novos quadros intelectuais e do ativismo político, de homens e mulheres, associados ao feminismo e às mobilizações antirracistas.
Movimento negro e a resistência política
O movimento negro contemporâneo nasceu da resistência à ditadura militar. Esta mobilização antirracista resultou da organização de jovens negros que se formaram em diferentes espaços de resistência ao regime, como universidades, clubes e associações culturais negras, instituições religiosas, sindicatos, centros estudantis, redações da imprensa alternativa e organizações partidárias. Tal juventude questionava os alicerces da identidade nacional, conspirava contra o “mito da democracia racial”, nacionalismo político que, como vimos antes, tornava cúmplices do racismo estrutural brasileiro o Estado e a sociedade civil.
A militância negra formou-se na rede de organizações e movimentos sociais contestadores da ordem militar. Dessa efervescência política, surgiu o Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial, originariamente composto por negros e outras minorias políticas (como judeus, gays e mulheres), apresentado na esfera pública como entidade “guarda-chuva” das lutas contra o racismo.
Em consonância com as lutas de libertação dos países africanos e de direitos civis, a geração ativista de 1970, que esteve na conformação do movimento negro brasileiro, construiu sua identidade coletiva embalada pela Soul Music e deixando nos armários as roupas de cores básicas para apresentarem às ruas um novo visual, cada vez mais colorido. Na cabeça, penteados à moda Black Power dispensavam as perucas e as pastas de alisar cabelos, típicos dos “anos dourados”. No caso das mulheres, as maquiagens clareadoras da pele davam lugar às cores vigorosas, em particular rosa e vermelho nos lábios, contornos da contracultura. O movimento, antes de se apresentar na cena pública como articulação de combate ao preconceito e às desigualdades raciais, encenava uma estética radical para o protesto.
Destacavam-se expressivos intelectuais negros como a historiadora Beatriz Nascimento, o sociólogo Eduardo Oliveira, a cientista social Lélia Gonzalez, o historiador Joel Rufino e o jornalista Hamilton Cardoso que se somaram às vozes já importantes que denunciavam o racismo dentro e fora do país, como Clóvis Moura, Solano Trindade, Abdias do Nascimento, José Correia Leite, dentre outros.
As ideias do movimento negro foram divulgadas e debatidas em importantes veículos da imprensa negra, como Árvore das Palavras (1974) e a coluna Afrolatinoamerica, em São Paulo; Tição (1978), no Rio Grande do Sul; Sinba (1976), no Rio de Janeiro e o Jornal Nêgo (1981), na Bahia. Estes periódicos são exemplos de uma das formas mais importantes de discussão dos casos de discriminação racial, do combate ao preconceito racial e as imagens estereotipadas e coloniais sobre o negro, suas culturas e religiosidades. Uma das pautas mais importantes para essa imprensa já era a violência racial contra a população negra, a perseguição policial e as mortes de jovens e trabalhadores negros nos grandes centros urbanos.
Assim, o movimento negro esteve presente no conjunto das lutas contra a ditadura militar e em favor da democratização. Por suas pautas de denúncia das injustiças raciais foi vigiado sistematicamente por agentes do Estado. Isso não impediu, no entanto, que o movimento se nacionalizasse e ganhasse várias formas de atuação política, das expressões culturais e religiosas às entidades exclusivamente políticas, passando por diversas experiências de politização da cultura por meio do teatro, do cinema, das manifestações das culturas populares, como o samba, os afoxés, os blocos afro, o hip hop dentre outros. Aos poucos, o movimento atingiu a grande parcela da população, fato que tornou o Brasil o país de maior presença negra fora da África. Os brasileiros passaram a não ter mais vergonha de sua cor, graças aos movimentos de valorização das origens étnico-raciais e das constantes lutas pela igualdade entre negros e brancos.
Movimento de mulheres negras e a redemocratização do Brasil
As mulheres negras sempre tiveram participação no movimento negro, a exemplo de sua atuação no ativismo feminino na Frente Negra Brasileira e também nas atuações das mulheres no Teatro Experimental do Negro. Contudo, elas encontravam grandes dificuldades para ocupar posições dirigentes nas organizações políticas negras, mesmo que as presenças delas nos ciclos de insurgência do movimento fossem significativas.
Tal realidade se modificou consideravelmente quando romperam com essa lógica desigual e buscaram outras formas de enfrentamentos da dominação masculina. A ruptura aconteceu de forma singular durante os anos de 1980 com a construção de coletivos e associações políticas próprias. Porém, antes da formação de organizações de mulheres negras, esboçou-se um pensamento crítico às relações sociais que invisibilizavam o papel delas na sociedade.
Beatriz Nascimento (1942-1995) e Lélia Gonzalez (1945-1994) foram duas intelectuais refletiram sobre os efeitos do racismo sobre a população negra de modo amplo, considerando seus impactos singulares sobre as mulheres. Nascimento deu grandes contribuições para se repensar o quilombo, não apenas na história da escravidão, como também na resistência contemporânea assinalando os problemas enfrentados pelo negro ao reconstituir sua identidade. Lélia Gonzalez também questionava a democracia racial. Para ela, era uma ideologia nacional que relegava às mulheres negras a papéis sexuais, laborais e maternais, herdados do passado escravista. A representação da mucama, mãe preta e a ama foi transposta para as imagens contemporâneas das mulatas, das empregadas domésticas e das babás, respectivamente. Defendia que ser negra no Brasil, era ser objeto de tripla discriminação: a racial, a de classe e a de gênero.
O movimento se fortaleceu ao longo dos anos 1980. Um dos destaques desta década é a publicação do Jornal Nzinga, que tratava tanto do feminismo quanto do antirracismo, ressaltando a situação das mulheres negras e seus dilemas nas periferias e morros cariocas. Abordava o intercruzamento das categorias de raça, classe e gênero na produção das desigualdades e opressões sociais. Esta articulação das múltiplas formas de opressão dá-se o nome hoje de interseccionalidade.
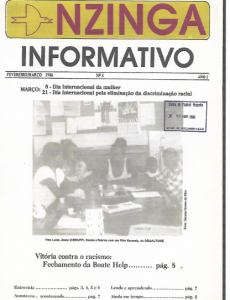
Atualmente é possível ver o impacto do movimento criado no contexto das lutas contra a ditadura militar nas organizações de mulheres negras presentes nos espaços públicos nacionais, a influência desse ativismo nos coletivos recentes de jovens feministas negras ou mesmo no ativismo digital, como no caso das influenciadoras e blogueiras, além dos movimentos de empoderamento crespo. A mobilização de mulheres negras reverbera com agenda de denúncias das opressões interseccionais, especialmente as de classe, gênero e raça.
Memória, verdade e justiça: Onde a questão racial entra?
As gravíssimas e sistemáticas violações dos Direitos Humanos, como nos casos de torturas, restrição dos direitos civis ou mesmo as execuções sumárias, raptos e desaparecimento de pessoas não são apenas elementos para uma história a ser contada sobre os períodos autoritários, mas se tornou uma realidade do cotidiano brasileiro mesmo durante o ciclo democrático, como nos atestam as pesquisas do Atlas da Violência. O regime militar deixou profundas marcas na cultura brasileira. Naturalizou-se no país a violação dos direitos humanos, especialmente contra jovens, do sexo masculino, pretos e pardos, originários ou residentes nos morros, comunidades e periferias dos centros urbanos.
É preciso notar que a Comissão Nacional da Verdade foi omissa no que toca à investigação da temática racial durante o regime militar. Os dados e informações produzidos pela Comissão dão suficientes em vários segmentos da vida social brasileira, mas reproduz o racismo estrutural que inviabiliza as lutas negras. Apesar de trazer à tona as histórias e imagens de lideranças negras, como Orlando da Costa, o Osvaldão, Carlos Marighela e Helenira Resende de Souza Nazareth, a CNV não se ocupou de relacionar essas figuras ao contexto mais estrutural das relações raciais brasileiras, nem se deu conta da necessidade de mostrar que a luta pela democratização contou com a participação ativa de homens e mulheres negras, que entendiam que a verdadeira democracia deveria ser conquistada juntamente com a luta pela liberdade e igualdade para negros e brancos.
Uma justiça preocupada com a memória e a verdade deve dar conta das violências visíveis e violações invisibilizadas em nossa história recente. Contribuir com a educação brasileira para o reconhecimento de sua história implica mexer em muitos traumas e suas múltiplas sequelas quando combinadas com pensamento e ações autoritárias do Estado.
Trazer à cena as várias facetas da ditadura militar exige de nós o esforço de desvelar os rostos, as histórias e as trajetórias interrompidas das pessoas que ousaram lutar, de diferentes maneiras, pela liberdade e pela igualdade no país. Exige ainda que se investigue as relações persistentes dos mecanismos letais de controle e de violência sistêmica aliados ao racismo estrutural que impactam negativamente a experiência dos afro-brasileiros. Deixam marcas irreparáveis às famílias negras que seguem vendo, dia a pós dia, ceifadas as vidas de crianças, adolescentes e jovens negros em todo território nacional.
Para saber mais:
ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural? Editora Letramento, São Paulo, 2018.
GONZALEZ, Lélia. O movimento negro na última década. In O lugar do Negro. Orgs Hasenbalg, C.; Gonzalez, L. Marco Zero, RJ, 1982.
KÖSSLING, K. S. (2007). As lutas anti-racistas de afro-descendentes sob vigilância do Deops/Sp (1964-1983). São Paulo. Dissertação de História.
MOURA, Clóvis. (1981). Organizações negras. In: São Paulo: O povo em movimento.SINGER e BRAND (Orgs.), Petrópolis: Ed. Vozes.
RATTS, Alex. (2007) Eu Sou Atlântica. São Paulo. Imprensa Oficial/ Instituto kuanza.
RATTS, Alex; RIOS, Flavia. (2010) Lélia Gonzalez. São Paulo: Selo Negro.
RIOS, Flavia (2014a). A Trajetória de Thereza Santos: Comunismo, Raça e Gênero durante o regime militar. In Revista Plural. São Paulo. Dossiê sobre Ditadura Militar.
ROLAND, Edna (2000). Movimento de Mulheres Negras Brasileiras. In: GUIMARÃES e HUNTLEY. Tirando a Máscara. Paz e Terra. São Paulo: Paz e Terra.
RUFINO, Joel. (1985). O Movimento Negro e Crise Brasileira, Revista Política e Administração. Rio de Janeiro. Vol.2.
Notícias de Jornais:
A ditadura perseguiu até bailes black no Rio de Janeiro – O Globo
Como a Ditadura Perseguiu os Militantes Negros – Carta Capital https://www.cartacapital.com.br/revista/867/a-paranoia-nao-tem-cor-1121.html
O negro na Ditadura Militar
https://revistaraca.com.br/o-negro-na-ditadura-militar/
Audiência em SP lembra a perseguição aos negros na Ditadura
Filmografia:
- O negro da senzala ao Soul (Documentário da TV Cultura)
- Alma no Olho (1973), de Zózimo Bulbul
- Compasso de Espera (1973), de Antunes Filho
- Quase dois irmãos (2005), de Lúcia Murat
- Ôrí (1989), de Raquel Gerber (pesquisa e narração de Beatriz Nascimento)
- Branco saí, preto fica (2014), de Adirley Queirós

